
“Hollywood de papel: roteiros não-filmados de Ben Hecht, Billy Wilder e Frances Marion” (editora Zazie), de Pablo Gonçalo, está à venda na livraria Linha de Sombra, na Cinemateca, e destaca uma análise de Hollywood através de argumentos que nunca chegaram a sair do papel de três dos maiores autores da era clássica dos estúdios.
Na conversa que segue, Pablo Gonçalo fala sobre a forma como essas obras acrescentam detalhes importantes à história invisível de uma fase crucial da história do cinema - debruçando-se também sobre a grande máquina de censura instaurada a partir de 1934. O académico aborda ainda o modo como estas pressões externas ainda incidem sobre a criação cinematográfica.
Um dos aspectos do livro é dar voz ao "cinema invisível", onde manifesta "desconfiança acerca da linearidade da história do cinema". Como as obras não filmadas que analisa no livro entram na História e o que elas acrescentam?
Essa preocupação de dar voz a um “cinema invisível” vem de um gesto, primeiro, da história do cinema não ficar refém das estreias, dos lançamentos semanais e dos principais acontecimentos comerciais. Desde o início, ainda no século XIX e no cinema mudo, há obras incríveis que não obtiveram sucesso ou foram lançadas de forma pontual, muitas vezes às margens dos grandes circuitos.
Recuperar essas obras é dar voz e visibilidade histórica a uma potência estética paralela à dos lançamentos. Acredito que há uma nova geração de investigadores de cinema atenta a esta epistemologia dos cinemas “invisíveis”. O cinema doméstico, os filmes de realizadores negros, mulheres, de países longe de um eixo industrial e eurocêntrico impacta nessa importante agenda.
No caso que investigo no livro, os argumentos não realizados na Hollywood clássica, essa invisibilidade é duplamente interessante. De um lado, mostra o que a indústria mais poderosa do cinema rejeitou ou viu como impedida e legou como não produzida propostas narrativas de alguns dos seus mais talentosos argumentistas. Por outro lado, permite-nos especular sobre uma forma de atualizar e retomar a potência estética – e de revelação histórica – que esses argumentos não realizados nos convidam a descobrir.

Por que escolheu precisamente estes três argumentistas?
Frances Marion, Ben Hecht e Billy Wilder são três dos argumentistas mais importantes da Hollywood do cinema mudo e do período clássico, a chamada Era dos Estúdios. A escolha deles veio, primeiro, por acreditar que teriam formas de envolvimento com Hollywood e com a escrita de argumentos muito ricas e reveladoras.
Também me encantei com as obras deles e os percursos que traçaram. Frances Marion (1888-1973) foi uma das argumentistas mulheres mais influentes da sua geração, chefe do Departamento de Histórias da MGM e duas vezes agraciada com o Óscar, algo raro na trajetória de qualquer profissional. Escreveu manuais, atuou politicamente e escreveu histórias extremamente sensíveis que nos ajudam a compreender as inquietações feministas das profissionais de Hollywood de um século atrás.
Ben Hecht (1894-1964) surgiu um pouco adiante e migrou para Los Angeles no cinema sonoro. Ele tem uma relação irónica com Hollywood, mas é conhecido por “Shakespeare” por ser extremamente versátil e habilidoso. Colaborou com inúmeros filmes clássicos e géneros que vão dos 'westerns' aos filmes de gangsters - passando pelas comédias.
Billy Wilder (1906-2002) tornou-se realizador porque queria que os seus argumentos fossem filmados como ele os via. Portanto, sempre se identificou muito com a escrita. Foi interessante refazer o seu percurso como argumentista, quando colaborou com Howard Hawks e Ernst Lubitsch, entre outros. Foi um escritor migrante, fugindo do nazismo, e aprendeu rapidamente não apenas a escrever noutra língua, como a assimilar, com ironia, a cultura dos EUA nos seus argumentos e filmes.
A escolha destes três argumentistas também ocorreu porque encontrei bons projetos não realizados e escritos por eles, que permitiam um ensaio histórico coerente e agradável ao leitor. Com Hecht e Wilder, por exemplo, descobri obras que denunciavam o anti-semitismo ainda no final dos anos 30, período em que esse tema era tabu em Hollywood. Com a Marion e os dois trabalhos inéditos que descobri dela, foi possível deter-me em traços autorais importantes da sua obra.
Durante a pesquisa, reuni argumentos de outros autores, como Preston Sturges, Herman Mankiewicz, Dalton Trumbo e Dudley Nichols, mas precisei escolher de acordo com o material que as histórias desses textos me revelavam.

Também reconstrói a história de Hollywood como uma "máquina moral", fortemente condicionada pela aplicação do Código Hays [um conjunto de normas morais aplicadas aos filmes lançados entre 1930 e 1968 pelos grandes estúdios, mas de forma mais rígida a partir de 1934, que se caracterizou pela autocensura]. Conseguimos imaginar como seria se o "pre-Code" tivesse continuado - com todas as suas liberdades...?
É difícil imaginar uma Hollywood diferente, mas com certeza seria menos racista, misógina e preconceituosa. O Código abafou uma diversidade moral que é um traço comum de um país complexo, como são os EUA... essa riqueza, muitas vezes contraditória, não migrou para o ecrã como poderia. Isso para mim foi uma das descobertas mais interessantes da pesquisa.
O Código teve uma influência direta até meados dos anos 1960. Acho que, por exemplo, todo o 'boom' que ocorreu com a chamada Nova Hollywood, na esteira de “Easy Rider”, é ilustrativo de uma potência mais insolente que estava reprimida e tomou voz, corpo e forma logo em seguida - ainda que combinada com a irreverência dos cinemas novos.
A aplicação efetiva do código Hays estava fortemente conectada com um sentido de representação - o que podia ou não ser mostrado nos filmes. Acha que esta mesma pressão externa à criação artística continua forte nos nossos dias - só que vinda das exigências do "politicamente correto"?
Sem dúvida. Há muita pressão e muitas balizas. O cinema é uma arte genuinamente económica e política. Portanto, os executivos, que possuem os recursos para o financiamento de obras, interferem diretamente nos rumos morais, dramáticos e nos estilos.
Hoje não temos uma censura muito evidente, como ocorria na época do código Hays. Mas os 'gatekeepers' [guardiões] – termo que uso e prática que permanece – possuem as liberdades de censurar as narrativas ou aderir a ondas, modas, temas quentes e tendências. É uma parte do jogo da complexa indústria do audiovisual.
A Netflix, por exemplo, formata boa parte das suas co-produções, socorrendo-se dos perfis de preferências dos seus subscritores, a partir de uma política que combina partilha de dados com assinatura, e orienta as suas narrativas a partir desses perfis, sofisticando o jogo de mercado e 'gatekeeping'.
Toda a economia que vai de 'copyright', distribuição e exibição passa por uma logística similar à da Hollywood clássica. Por isso mesmo, reter as invisibilidades passadas e contemporâneas é, para mim, um contraponto importante, uma forma saudável de resistência em favor da potência da rica história do cinema.

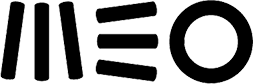
Comentários