Este artigo tem mais de 12 anos
É de coração partido, mas com a elegância habitual, que Norah Jones se apresenta em "Little Broken Hearts". O disco, esse, não só é bastante coeso como, muito provavelmente, o melhor que a norte-americana já assinou. Danger Mouse, na produção, destaca-se como cúmplice de serviço. Há dez anos, quando editou "Come Away with Me", estreia que somou cinco Grammy e subiu aos lugares cimeiros dos tops, Norah Jones tornou-se na nova - e maior - coqueluche da mistura (raramente muito entusiasmante) de pop, jazz e estilhaços de folk ou blues. "Feels Like Home" (2004), o álbum sucessor, não mudou muito o cenário e levou-nos a crer que a filha do músico indiano Ravi Shankar não estava interessada em mudar o registo: antevia-se, por isso, uma discografia feita de canções entre o agradável e o inócuo, destinadas a acompanhar jantares igualmente pacatos sem imporem muito a sua presença. Os episódios seguintes sugeriram, contudo, que o seu rumo poderia não ser bem assim. "Not Too Late" (2007), ligeiramente mais denso e outonal, teve convidados pouco óbvios como o cantautor M. Ward ou o violoncelista Jeff Ziegler, do Kronos Quartet, e aproximou-se da country do projeto paralelo de Jones, The Little Willies. "The Fall" (2009) sublinhou esse afastamento da leveza confortável dos primeiros discos, indo de encontro ao rock alternativo e convocando referências da área - caso de Ryan Adams ou Will Sheff (dos Okkervil River), que deram uma ajuda na composição do álbum mais áspero e intrigante de Norah Jones até então. No ano passado, com o projeto "Rome", a cantora deu outro passo rumo a um percurso que, aos poucos, vai abraçando alguma versatilidade. Juntamente com Jack White, Jones foi a convidada desse disco criado pelo produtor Danger Mouse e pelo compositor Daniele Luppi, dando voz a homenagens à música dos western spaghettis. E assim chegamos a "Little Broken Hearts", álbum que, sem trazer uma viragem radical à obra de Norah Jones (que talvez nunca chegue), mostra a cantora consideravelmente distante da música através da qual a conhecemos. Ou até mesmo da imagem, com uma capa mais estilizada (inspirada no filme "Mudhoney", de Russ Meyer), longe do look limpo, arrumadinho e algo indistinto de outros tempos - apostamos que muitos fãs nunca imaginaram vê-la despentada. Não chega a ser um atrevimento, mas mostra uma artista disposta a correr alguns riscos. No caso deste quinto disco, o risco compensa, já que a Jones volta a colaborar com Danger Mouse e entrega-lhe a produção de todos os temas. O elemento dos Gnarls Barkley e Broken Bells não desperdiça a oportunidade e sai-se bem no desenho de atmosferas, dando tonalidades específicas a cada canção sem comprometer a coerência do conjunto. Além de sonora, a coerência é temática e parte diretamente do final da relação da cantora com o namorado. A situação, emocionalmente conturbada, parece ter espicaçado a inspiração de Jones, que contou, em entrevista à Rolling Stone, ter comprovado aqui a ideia de que os compositores escrevem canções melhores quando atravessam fases problemáticas. Se dermos atenção à letra da faixa inicial, "Good Morning" (e este é um disco em que as palavras realmente interessam), percebemos logo que o título é irónico, uma vez que a canção se refere a circunstâncias pouco amenas e poderia chamar-se "Goodbye" ("More loving is all I was after, but you couldn't give it so I'm moving on"). Nesse sentido, o tema seguinte é mais claro: "Say Goodbye" regista outro momento de despedida, embora com um ritmo mais upbeat, nascido de um flirt entre piano e sintetizadores. É um dos episódios mais contagiantes do disco, estranhamente próximo de uma versão desacelerada do clássico das pistas "Remember Me", de Blueboy", que fez furor nos anos 1990, ainda que a letra seja, mais uma vez, muito pouco espirituosa e até vincada por algum cinismo ("Well it ain't easy to stay in love if you can't tell lies/ So I'll just have to take a bow and say goodbye"). "Out on the Road" ou "Happy Pills", igualmente orelhudas e com guitarras quase funky, voltam a disparar farpas enquanto Norah Jones mete o pé na estrada (e diz que não vai mais voltar). Já "Travelin' On", onde o caminho a percorrer volta a ser o fio condutor, deixa de lado o ressentimento numa canção desarmante, nascida de uma preciosa alquimia de violoncelo, guitarra acústica, baixo e, claro, a voz de Jones, mais encantadora do que nunca quando repete "I can't believe what's happening now" no refrão. Outra das grandes canções do disco, "Take It Back" tem uma das melhores conjugações entre os arranjos elaborados, mas nunca supérfluos, de Danger Mouse e a entrega vocal de Norah Jones, a cereja em cima do bolo de uma teia eletroacústica longe do território mais expectável da cantora. A mesma sensação de desalento toma conta de "She's 22", de moldura instrumental mais minimalista, cuja aura folk lembra Dawn Landes e o tom algo arrastado e lânguido sugere os ambientes de Lana Del Rey (num dia inspirado). O coração partido é, mais uma vez, o mote, e o ciúme ganha protagonismo ("She's 22 and she's loving you, and you'll never know how it makes me blues/ Does it make you happy?"). Para o final, "Little Broken Hearts" guarda um dos momentos mais surpreedentes. "Miriam", tema em que Norah Jones se dirige à mulher com quem o seu companheiro a traiu, é interpretado como se fosse uma canção de embalar, mas essa candura mostra-se inversamente proporcional à crueza e requintes de malvadez da letra ("And I tried not to hurt you, 'cause you might not be that bad/ But it takes a lot to make me go this mad (...) I'm gonna smile when I take your life). Além de inesperado, o resultado é desconcertante e, mais do que qualquer outra canção do disco, rompe com a imagem de menina bonita a que muitos associam a sua autora. Ainda bem, porque como a própria admitiu e "Little Broken Hearts" comprova, Norah Jones torna-se mais interessante quando está irritada - e, ao contrário de tantas outras, nem sequer precisa de gritar para nos convencer. @Gonçalo Sá <


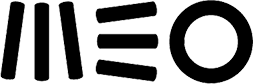
Comentários