
Em abril passado, mês da edição do seu álbum mais recente, "Multitudes", Leslie Feist tinha contado em entrevista ao SAPO Mag que a sua atual digressão pretendia "questionar a noção clássica do que é suposto ser a experiência de um concerto e tentar imaginar novas formas de alcançar essa experiência coletiva íntima e partilhada".
Na noite desta quinta-feira, 21 de setembro, essas intenções concretizaram-se finalmente em Portugal com doses generosas de surpresa, mesmo para quem já sabia à partida que o inesperado não costuma ser fenómeno estranho a um concerto da canadiana - como o provaram atuações anteriores por cá, da pompa e circunstância na Aula Magna, em Lisboa, em 2008, ao despojamento da visita anterior ao Coliseu dos Recreios, também na capital, em 2018, quando trouxe "Pleasure" na bagagem.

Será justo dizer que a voz de "Let It Die" (2004) conseguiu superar-se ao longo das quase duas horas e meia, com direito a dois encores, que marcaram o seu regresso a uma cidade que não se cansou de elogiar (como noutras ocasiões). Recebida de braços abertos numa casa concorrida, ainda que não esgotada, começou por surpreender mesmo antes da sua entrada em cena, quando ao fundo da sala foram projetadas gravações, captadas por si, da sua imersão no público. Não foi preciso mais para desencadear um entusiasmo que seria mantido durante um espetáculo cuja primeira metade contou apenas com a anfitriã sozinha num pequeno palco no centro do Coliseu, rodeada de espectadores, em modo voz e guitarra(s).
Mas se estava a atuar só, elegeu rapidamente um colaborador depois de um apelo que conseguiu vários voluntários: o de filmar o concerto com a pequena câmara que tinha levado e que nas primeiras canções focou os seus pés e a sua guitarra - imagens projetadas ao fundo da sala. Entre os braços que se ergueram, escolheu o de Jeremy, outro canadiano, que cumpriu escrupulosamente o pedido nos temas seguintes.

Como muitos dos presentes provavelmente desconfiaram, essa colaboração guardou outro segredo, apenas desvendado pela artista já perto do final: Jeremy era na verdade Rob Sinclair, cantor e designer com quem se lançou nesta nova empreitada cénica que, à semelhança de "Multitudes", procura "uma sensação de proximidade desafogada, como uma pessoa que sussurra perguntas aos ouvidos de outra", conforme explicou também ao SAPO Mag.
A desconfiança em relação a este "fã" escolhido a dedo era justificada: as imagens apresentadas em palco, inicialmente (falsamente) amadoras, foram aos poucos moldando-se à identidade visual do novo disco, dominada por espelhos paralelos (ou no caso do concerto, ecrãs) que reproduzem Feist até ao infinito. Foi um efeito certeiro que tirou o maior partido da lógica menos é mais, dispensando a megalomania de outras produções sem deixar de impressionar.
Os espectadores também ajudaram. "O espetáculo é o público", sublinhou Florence Welch, há poucos dias, noutro dos grandes concertos da rentrée (o dos Florence + The Machine no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, também em Lisboa). A canadiana disse-o por outras palavras quando pediu aos presentes para se aplaudirem a si próprios quanto cantaram "Malhão, Malhão" enquanto afinava uma guitarra. E muitos contribuíram para tornar "Become the Earth" num momento especialmente emotivo quando a cantora pediu que mostrassem à câmara de Jeremy imagens dos seus telemóveis com a pessoa, cenário ou situação que mais os amparou durante a pandemia - episódio que deu protagonismo a pais e filhos, companheiro/as e animais de estimação.

Um concerto que até foram dois
"Fiquei viciada no telemóvel durante a pandemia", admitiu, mas o confinamento também a encorajou a tentar aproximar-se, como nunca antes, de quem sai de casa para a ver em palco.
Feist viria a comparar essa comunhão à carga elétrica de uma tempestade num interlúdio no qual versou sobre as incertezas da idade adulta, sintetizadas no seu emoji favorito (o que encolhe os ombros), depois de abrir um bloco aparentemente perdido na sala, filmado pela câmara de Jeremy. Mas (surpresa, ou talvez não), o bloco era dela e continha a letra de "A Man Is Not His Song", que surgiu no ecrã em modo lyric video improvisado.
Já em "I Took All of My Rings Off" (um dos pontos altos de "Multitudes"), tudo mudou. Depois desta primeira sucessão de canções, que incluiu ainda a folk de "The Bad in Each Other", a obrigatória "Mushaboom" ou a mais abrasiva "Century", o concerto abandonou o formato a solo e acústico quando a cantora se dirigiu subitamente para outro palco: o habitual do Coliseu. O pano caiu, revelou uma banda (a acompanhá-la nas cordas, teclados ou bateria) e inaugurou um segmento mais familiar, no qual desfilaram os maiores êxitos da sua discografia (mas não só). "My Moon My Man" e "A Commotion" deram uma assinalável injeção de adrenalina, "I Feel It All" foi um acesso de candura arrepiante, a meditativa "Caught a Long Wind" permitiu atestar, talvez como nenhum outro tema, uma voz irrepreensível.

"Sea Lion Woman" mostrou-se, como em visitas anteriores, um dos maiores picos de intensidade, com a artista e o público quase em disputa. E "1234" garantiu surpresas nesta segunda hora mais convencional, embora não menos vibrante: aquele que é talvez o maior clássico do popular "The Reminder" (2007) surgiu numa versão mais espacial e com Feist a aliar a função de cantora à de maestrina, conseguindo a proeza de criar três tipos de coros entre a multidão.
A canadiana também voltou a mergulhar no público, sem barreiras, dançou de braço dado a um espectador e retomou o formato voz e guitarra em "Gatekeeper", uma das suas primeiras canções, que acabaria por ser a última da noite e a única do segundo encore. E ainda a derradeira de uma longa digressão encerrada em Lisboa da melhor forma, com tanto de desnorteante como de aliciante. Mais do que um grande concerto, uma das grandes experiências de palco(s) de 2023.

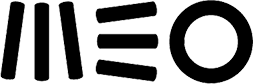
Comentários