No momento em que lança "Contramão", o seu sétimo álbum de estúdio, Pedro Abrunhosa fala-nos das suas influências musicais, de um país em marcha-atrás e da necessidade de saber resistir. Com base no amor, como sempre.

A.M.O.R é uma das músicas do álbum com maior carga épica. O amor é o segredo para tudo?
Sem dúvida. O amor nas suas várias fases e formas: O afecto, a emocionalidade, a partilha, a dádiva, a capacidade de entrega. Shakespeare dizia: “Por que é que nós somos diferentes? Será que quando nos espetam uma adaga na pele nós não sentimos, não sangramos, como vocês?” A humanidade é igual na dor e no amor. Já que somos todos de clubes diferentes, de partidos diferentes, países diferentes, podemos partir em comum com esse sentimento.
“Contramão” parece ser um álbum com uma toada de esperança. Há outras razões para além do amor para termos esperança?
É um álbum de esperança sobretudo num sentido de resistência. Não há nenhuma forma de sobreviver sem esperança. Por exemplo, há experiências científicas com doentes em casos terminais [que provam que], quando as pessoas perdem a esperança de que vão sobreviver, a doença piora. Psicologicamente, em sociedade, quando se perde a esperança, as coisas agravam-se mais facilmente. E uma das coisas imediatas que se degrada é a paz social, e a paz interior, que, no fundo, andam juntas.
O que é preciso é não baixar os braços e não dar o estado atual como fatalista. É preciso perceber onde se errou. É uma esperança primeiro no nosso semelhante, na pessoa que está ao nosso lado, e no bom senso colectivo. Eu tenho esperança de que o povo português nas próximas eleições tenha o bom senso de perceber o que é que está em causa, porque quando realmente se está perante o precipício e tomamos esta atitude de nos tombarmos pelo precipício, pelo menos o que há a fazer é não o repetirmos.

A sua discografia está marcada por músicas de resistência, umas mais notadas e outras mais implícitas. Face ao atual momento, e outros momentos difíceis por que a colectividade portuguesa tem passado, acha que a música de intervenção e as manifestações de resistência têm estado à altura?
A minha música não é de intervenção, nunca foi nem pretende ser. Porque a música não é utilitária, em primeiro lugar. É uma música empenhada. É apenas mais uma das formas de ação com que nós podemos dizer de uma forma consciente “estamos acordados”. A música, como qualquer outra atividade humana – os movimentos sindicais, os movimentos associativos, estudantis –, todos à sua maneira, tentam melhorar o bem comum, congregar vontades, tentam fazer com que se avance numa direção correta. Também tem o propósito do entretenimento, de restituir magia às pessoas, de as comover, de as provocar. É extremamente importante que a arte faça isso.
As grandes, grandes mudanças fizeram-se sempre de forma pacífica; na África do Sul, enquanto o ANC (Congresso Nacional Africano) foi uma instituição com agressividade, o seu impacto junto da população foi muito escasso. No momento em que o ANC depôs as armas, com Nelson Mandela, ganhou espaço. A mesma coisa com o movimento de Mahatma Gandhi na Índia e com Luther King nos Estados Unidos. Não resistir, ceder, mas pacificamente. É uma grande diferença entre Martin Luther King e Malcom X: ambos acabaram assassinados, mas o impacto que tiveram no seu tempo e a posteriori é bem diferente.
Apesar de tudo, a resistência que se faz na rua é uma resistência institucional, o que é muito bom. E é concentrada e congregada, porque existem centrais sindicais. Vejo com muito bons olhos o ressurgimento da UGT com uma liderança forte. O movimento sindical em Portugal tem uma importância demasiado grande: faz frente ao poder, zela pelos nossos interesses e controla na rua um eventual descontrolo da multidão.
Ao nível do assento parlamentar, do arco central, os partidos não têm dado expressão ao movimento popular. Aproveitam-se disso no momento certo, mas são incapazes de levar até ás últimas consequências essa vontade. Se fosse líder da oposição (não tenho qualquer vontade nem qualquer ambição política, não tenho jeito nenhum) teria saído à rua, teria tentado captar aquele ímpeto. É uma vontade telúrica. Se não é aproveitada pela vontade que está fora da linha de água, então que tipo de liderança tem a nossa oposição?

Há uma música deste álbum que se refere ao Senhor do Adeus. Falar de Lisboa com sotaque nortenho é ouro sobre azul?
A música sempre fez a ponte de afeto entre um país que é geograficamente muito pequenino. E eu tenho lutado desde há muitos anos contra as fraturas artificiais entre norte e sul, muito enfatizadas pelo futebol e nalguns casos por dirigentes acintosos que se picam uns aos outros. Somos demasiado parentes para haver norte e sul. E a música tem o condão de ser global. Quer em Bragança ou em Porto Alegre, no Brasil, quer em Évora ou na Ribeira Brava, em São Miguel, em Lisboa ou no Porto, as pessoas recebem com o mesmo calor, porque eu lhes falo de coisas que lhes são comuns.
Dá-me grande orgulho escrever sobre Lisboa e sobre as coisas de Lisboa porque quer dizer que conheço. Logo, amo. Quem conhece, ama. Nunca falei com o Senhor do Adeus, mas era uma personagem de uma luminosidade silenciosa, a dizer adeus aos carros... Achas que há uma imagem mais poética para uma canção pop? De que é que falava o Lou Reed nas suas canções? Falava destas personagens. As personagens pop rock são estas que estão à vista de todos. São-no muito mais os underdogs do que os que estão por cima. Os que estão por cima não têm chama nenhuma.

Em quase 20 anos de álbuns, consegue ter exata noção do que é que mudou nas suas músicas?
É uma pergunta complexa demais. O que é que é comum em todas as obras do Picasso, em todas as obras do Siza, em todas as obras do Júlio Resende? O que é comum é a sua alma. Mas existe uma perspectiva de mundo que é sempre enriquecida pelo percurso que vais fazendo. O Jorge Luís Borges dizia uma coisa que eu acho que é aplicável aqui: “Nós somos os livros que lemos e as mulheres que amámos”. O que quer dizer que nós somos o fruto de tudo o que nos marcou e com que nos envolvemos. Logo, se tu não estagnaste na tua vida, a tua próxima obra projeta aquilo que tu aprendeste entretanto. O importante é não nos deixarmos aburguesar, acomodar.
Há uma excitação diferente entre o “Não posso mais” e fazer as músicas novas. O que nós fazemos é mudar os arranjos. Eu próprio vou ouvindo muita música. Umas vezes fazemos à Nick Cave, até por exercício de estilo; agora estou a aplicar algumas coisas à Arcade Fire, só porque gosto daquele crescimento orgânico; ou à Sigur Rós. É estares atento à realidade política, à realidade musical, etc.. Quando saiu o meu disco “Viagens” não havia The Nacional nem Antony and the Johnsons, portanto, agora, a minha música reage em função disso.
Pegando no título da última música, costuma sentir muitas saudades?
Não... A última música, para além de ter aquele texto que por acaso acho que saiu bem - “Saudade é querer a luz de uma janela que não abre...” -, é a minha definição poética sobre saudade. Não sou nada nostálgico, não tenho saudades nenhumas, não tenho saudades nenhumas da falar de “Viagens”, não tenho vontade nenhuma de falar desse tempo. Mas a palavra saudade sempre me provocou algum mistério. Aquela canção faz muito mais sentido cantada por um cigano catalão, que nem sequer tem a palavra saudade. Um grande flamenquista (música das entranhas) explicar aos portugueses o que é a saudade é um jogo irónico muito interessante. Faltava-me o conceito de saudade, agora já está, já não o deixo. As pessoas que têm muita saudade é porque não estão a viver bem o presente.

É hora de entrarmos em “Contramão”? Ou apenas de fazer inversão de marcha?
Faz lembrar aqueles jogos de vídeo em que estás a conduzir o carro e de repente reparas que estás na faixa errada sem teres feito nada. O que acontece é que o cenário mudou, as regras mudaram, e de repente ficámos todos em fora-de-jogo, porque o adversário avançou no terreno. Ou recuou. O país recuou e, de repente, estamos todos em contramão. Esta na hora de “ser inteiro, estar de pé”, com dignidade, mas também de perceber que a realidade é dura. Quem conhece a Beira Alta, Trás-os-Montes, e por aí, sabe das gravíssimas dificuldades que se vivem aí. Antigamente falava-se de que o interior não tinha acesso a bens culturais, hoje em dia fala-se em ter pão e em ter mesa para pôr o pão. A tal pequena elite que dirige o país, que vive aqui neste eixo [Marquês de Pombal], está completamente alheada dessa realidade. O país tem fome, tem frio e tem necessidade de esperança. Não somos nós que estamos em contramão. Quem tem de fazer inversão de marcha é o governo e as políticas, não somos nós.

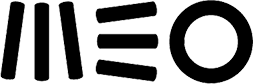

Comentários