
Há muitas maneiras de ser fã, existem diversas formas do amor pela música que antecedeu um artista se transformar num retrato de identidade. O som dos Waterboys no Campo Pequeno, em Lisboa, simples, honesto, emocional, remete para o grande poeta do rock’n’roll, Neil Young, que no auge da destruição punk destronava os velhos dinossauros e que desencantava do fundo da alma o hino “Hey Hey My My (Into the Black”) – e o verso “rock’n’roll can never die.”
Os tempos de hoje não são tão dramáticos, apenas fragmentados. Há uma enorme democracia, talvez acompanhada pela sombra da dispersão e pelo desvanecimento da atitude. Tudo isso começou nos estranhos anos 1980, numa era de relativização das heranças do passado. Olhando para trás, é possível juntar os cacos: do que de melhor sobrou, há os estilhaços dos pós-punk inglês (o dito rock indie) ou o espírito de rebeldia de mudança na invenção violenta do trash metal.
Mas também houve muito mais, como as solitárias experiências que anunciavam o clímax da diversidade do século XXI. Precisamente no meio da década, um escocês, dono de um espírito de confiança prodigioso, lançou um álbum chamado “This Is the Sea”, um monumento onde dividia os arranjos com outros dois multinstrumentistas (Anthony Thistlethwaite e Karl Wallinger, que abandonaria as fileiras dos Waterboys para fundar a sua própria marca, os World Party) e apresentavam uma sinfonia de rock imerso em piano, órgão, guitarras, violinos e o sax de Thistlethwaite .
Essa sinfonia que amalgamava com bravura os mais variados espíritos dos vintage, com especial ênfase no folk de Van Morrison ou Bob Dylan, deixava o ouvinte entregue a uma paixão avassaladora vinda de momentos gloriosos como “The Pan Within” e, escandalosamente de fora no concerto do Campo Pequeno na passada quarta-feira (foi belissimamente executada em Lisboa no Paradise Garage, há alguns anos), “Don’t Bang the Drum”.
Também daí o seu maior êxito, “The Whole of the Moon”, que sobreviveu à massificação e que continua uma preciosa narrativa de uma epopeia por mundos fantásticos e coloridos remetendo a “every precious dream and vision” e aos seus unicórnios, balas de canhão, palácios, trombetas, torres e cortiços.
Apenas três anos depois, em 1988, Scott já propunha qualquer coisa de muito diferente e igualmente assinalável: “Fisherman´s Blues” mergulhava nas tradições irlandesas, reunia em estúdio mais de uma dezena de músicos locais e apresentava umas tantas pérolas. Só mesmo o lirismo reinante do génio para tornar Mike Scott no único artista capaz de incluir no encarte de um álbum uma frase como “agradeço a Deus pelo amor e pela música” sem soar ridículo.
Este álbum deu o mote aos primeiros temas do concerto: a acústica “When Ye Go Away” torna-se acelerada e serve de cartão de apresentação dos músicos trazidos por Scott e o seu chapéu de ‘cowboy’: o velho guerreiro de muitas batalhas, Steve Wickham (‘fiddle’), o muito ovacionado Brother Paul (teclados), mais Ralph Salmins (bateria), Jess Kav e Zeenie Summers (segundas vozes e bailarinas) e Aongus Ralston (baixo).
O diálogo entre modernidade e rock’n’roll parece encerrado numa espécie de “statement” quando Scott vai buscar de “Modern Blues” (nome mais emblemático, impossível – aliás num álbum pelo qual ele foi acusado por um crítico de ser “demasiado reverente” aos artistas que o inspiraram), “Still a Freak”, onde canta: “I'm still a freak, I never went straight / I kept my appointment with fate / And like every human being that was ever born I'm unique / Things disappear but I'm still here”.
Ainda mais blues é “Nashville, Tennesse”, acrescentando umas piadas ao teclista Brother Paul para aludir a um dos versos da música, “My soul is in Memphis / my ass is in Nashville, Tennessee...”
O passado também se encontra em “Blues for Baker”, na verdade um solo de bateria à moda antiga em homenagem ao “monstro” Ginger Baker, falecido no início de outubro e apresentado entusiasticamente pelo líder dos Waterboys; cabe a Ralph Salmins a tarefa, na mesma medida em que as cantoras/dançarinas são libertadas para uma dança tribal.
Os sete minutos hipnóticos de “We Will not Be Lovers” são mais um dos grandes momentos de “Fisherman’s Blues”; já a obra-prima “The Pan Within” surge sem a sumptuosidade barroca do original, mas não sem a sua maravilhosa intensidade: Wickham reproduz no “fiddle” os solos de guitarra, de órgão, de piano, de sax do original; Scott é “apenas” ele mesmo com uma guitarra acústica e a sua voz inconfundível a convidar à uma viagem à procura do Deus das montanhas e a entoar versos de inesquecível entrega à majestade cósmica como “The stars are alive / and nights like these / Were born to be sanctified by you and me / Lovers, thieves, fools and pretenders / All we've got to do is surrender”.
Para o final uma celebração festiva para as dançarinas se desligarem da disciplina das coreografias em dupla com o primeiro sucesso do grupo, “A Girl Called Johnny” e, surpreendentemente, Scott vestindo um casaco brilhante para cantar “Purple Rain” e soar incrivelmente parecido com Prince, que um dia também cantou “The Whole of the Moon”.

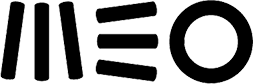
Comentários