
Em 1992, num momento de impasse pessoal na indústria, Francis Ford Coppola arrisca na repetição de Drácula. “Mais uma versão?”, poderiam ter-lhe perguntado. Socorrendo-se de um elenco de luxo e do cuidado extremo em cada pormenor, Coppola entrega não uma versão mas a sua própria interpretação do vampiro. Por isso, dá-lhe o nome do criador e transforma “Drácula de Bram Stoker” numa homenagem simultânea à história e ao cinema. Afinal, não é assim que se fazem os clássicos?
A resposta afirmativa à pergunta está tão simplesmente nas escolhas e no método de Francis Ford Coppola. A preparação do filme começa com um storyboard animado distribuído por toda a equipa para que a sua visão transitasse, com precisão, da sua mente para a realidade. Impregnado dessa visão, o filme ganha forma com o que foi um dos segredos do seu sucesso – o guarda-roupa.
Coppola dedica à indumentária das personagens uma das maiores fatias do orçamento do filme. Pretendia que o guarda-roupa substituísse os cenários (feitos de simples objetos, projeções e sombras, a apelar à imaginação do espectador). Convida a estilista japonesa Eiko Ishioka para vestir as personagens e confia-lhe a missão de, através do guarda-roupa, distinguir este Drácula dos seus antecessores, construindo uma nova personagem no imaginário do público.
Assim, Eiko Ishioka troca a convencional capa preta por vestimentas variadas, entre as quais se destaca um manto dourado usado por Dracula. (O manto é inspirado pelo quadro The Kiss do austríaco Gustave Klimt, que o próprio Coppola sugere à estilista e que parece ser mimetizado também por Drácula e Mina na cena em que, num abraço, o conde promete amor e vida eternos.)
Ishioka não receia cores fortes: dá um roupão vermelho debruado a dourado ao conde Drácula, quando o vemos, pela primeira vez, a receber Jonathan Harker no seu castelo; veste Lucy com um esvoaçante vestido alaranjado, numa das cenas mais sensuais do filme (Coppola carregou propositadamente no erotismo da história); e acentua o puritanismo de Mina com um vestido verde brilhante que lhe tapa o pescoço, além de luvas e chapéu. Eiko Ishioka recebe um Óscar da Academia pelo seu trabalho em “Drácula de Bram Stoker”, ela que trabalharia mais tarde com Björk e Grace Jones e que deixaria a sua influência no cinema (que recordamos em "Crimson Peak: A Colina Vermelha", de Guillermo del Toro).
O segundo segredo do sucesso do Drácula de Coppola é tão simplesmente Gary Oldman.
O ator dá vida a um Drácula que arrepia só com as suas expressões faciais e dispensa claramente os saltos na cadeira do cinema a que o terror moderno nos habituou.
Uma das cenas mais brilhantes acontece quando Drácula saboreia o sangue da navalha com que Jonathan Harker faz a barba, revelando-se extasiado, a satisfação estampada no rosto, visível graças a uma mudança oportuna do ângulo de filmagem. Mas este Drácula envelhecido e aterrador, que assume formas animalescas que as versões anteriores não arriscaram, dará lugar a uma faceta quase simpática, quando, já em Londres, Gary Oldman aparece rejuvenescido. Apresenta-se com longos cabelos e roupas modernas, uns óculos de sol de lentes roxas, empoleirados no nariz. A mudança é parte da manobra para seduzir Mina e vinca uma certa veia romântica – ou mesmo afetuosa – da personagem. “I have crossed oceans of time to find you”, diz-lhe. Gary Oldman contaria que a dualidade da personagem tornou a sua interpretação mais interessante, por tratar-se de um guerreiro caído em desgraça, condenado à escuridão eterna.
O filme recebe três Óscares da Academia, mas nenhum deles – injustamente – celebra o protagonista. Gary Oldman é um dos mais versáteis atores da sua geração. Já foi Sid Vicious e o assassino de JFK, Lee Harvey Oswald. Foi o comissário Gordon e Sirius Black. Trabalhou com Luc Besson e Quentin Tarantino. Entrou em "Friends" e num videoclip de David Bowie. Gravou um dueto com David Bowie! E foi preciso interpretar Winston Churchill, na grande produção de Hollywood que foi “A Hora Mais Negra” (2017), para receber o de Melhor Ator. A performance na pele do antigo primeiro-ministro britânico é rigorosa, mas está longe da mestria alcançada em “Drácula de Bram Stoker", não apenas pelo talento de Gary Oldman, mas porque o timing é tudo. E que outro realizador senão Francis Ford Coppola enviaria ao seu protagonista um caixão para entrar na personagem?.
O filme junta Winona Ryder como Mina, num desempenho que se limita a cumprir objetivos mínimos; Anthony Hopkins como dr. Van Helsing, a acrescentar suspense/loucura à história; e Keanu Reeves como Jonathan Harker, com o pior dos sotaques britânicos e uma performance insípida que envergonha, sobretudo quando contracena com Gary Oldman.

Tom Waits e Monica Bellucci também fazem parte do elenco, de onde se destaca Sadie Frost no papel de Lucy, ela que protagoniza algumas das cenas com mais sangue. Lucy, transformada em vampira (e pouco antes de ser decapitada), regressa à sua cripta com uma criança aterrorizada nos braços.
Nestes momentos, sabemos que Francis Ford Coppola não hesitou em testar todos os limites a que a história de Bram Stoker se prestou. Fugiu aos clichés das representações de vampiros (ultra)passadas. Acrescentou erotismo à sedução a eles associada. Explorou encarnações animalescas daquele ser demoníaco. Brincou com planos e sons. E não acabou sem garantir que nos rendíamos à empatia de um Drácula, que só queria pôr fim à sua némesis e encontrar paz.
Uma homenagem ao cinema de outros tempos
Em “Drácula de Bram Stoker”, Coppola prescinde dos modernos efeitos de computador e segue a cartilha antiga do cinema, indo buscar técnicas à era dos filmes mudos, como "Nosferatu, O Vampiro" (1922). A certa altura, o realizador despede toda a equipa responsável pelos efeitos e contrata o próprio filho, Roman Coppola. Juntos, usam técnicas como a exposição dupla ou a projeção em tela durante as filmagem com os atores. A sombra de Dracula tem movimentos próprios e até esse efeito foi conseguido por via artesanal. Afinal, que sentido faria fazer um filme de vampiros tão próximo do romance do século XIX com modernos recursos cinematográficos?
Os efeitos sonoros, que mereceram o reconhecimento através de um Óscar, contaram com a participação do vocalista dos The Cramps. Lux Interior empresta um grito sofrido à personagem de Gary Oldman, quando descobre que a sua noiva cometera suicídio ao pensar que o guerreiro morrera em combate. Sim, uma cena muito à Romeu e Julieta, mas esta história não nega a inspiração na literatura. A redenção final do conde, motivado por amor, faz lembrar “A Bela e o Monstro.

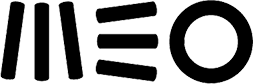
Comentários