
Palco Principal - O José Cid é uma instituição da música portuguesa – é o “Tio Zé”. Faço questão que a minha primeira pergunta seja precisamente esta: posso tratá-lo por Tio Zé? Ou já estou a pisar o risco?
José Cid - Podes e deves. Toda a tua geração, dos vintes, me trata por Tio Zé. A dos trintas, a dos quarentas e até a dos sessentas tratam-me por Tio Zé, para disfarçarem a sua já avançada idade. De maneira que este Tio Zé, para além de ser um tratamento carinhoso, é, ao mesmo tempo, um álibi para os mais velhos.
PP - Como é que se chega a “Tio Zé”? Como é que foi este percurso? Quantas partes de esforço e quantas partes de inspiração?
JC - O meu concerto é um concerto muito jovem. É um concerto muito rockeiro, com muita dinâmica, divertido! Acaba por não ser um concerto - é uma festa. As pessoas, se quiserem ir ver concertos, vão a outros lados. Ao vivo, além de ter uma produção muito cuidada - estão lá as canções todas -, tenho uma grande banda de músicos que estão lá a acompanhar-me. E a minha voz aguenta-se muito bem durante duas horas. E as novas gerações gostam disso e sabem - até porque estão fartas de ir a espetáculos em que percebem que 85% do som que estão a ouvir é fruto de gravações e porcarias que não têm nada a ver com aquilo que se está a passar no palco - que, nos meus palcos, sou mesmo eu ao vivo. A diferença é essa.
PP - Como é que um músico consegue manter-se relevante ao longo de tanto tempo, superar tantas tendências, contrariando algo que, à partida, parece inevitável, que é o desgaste temporal do artista?
JC - A minha atitude perante a vida tem sido uma atitude bastante jovem, bastante rebelde. Não me importo de estar politicamente incorreto. Não me importo de dizer aquilo que penso, mas, quando digo aquilo que penso, acrescento uma justificação e uma ideia. Não critico só porque sim. Eu não contesto, constato. E, portanto, as pessoas identificam-se muitas vezes com a minha forma de pensar. Por acaso, este novo álbum tem tudo a ver com isso. Este álbum é um álbum de sonho. É um álbum de objeção de consciência. É um álbum de luta pelos grandes ideais e pelas grandes causas. E, portanto, à partida, é um álbum falhado. Porque o sonho não vende, as grandes causas são uma chatice, os grandes ideais, 'ora bolas'. As pessoas, hoje, querem é o imediato, o consumo imediato. Mas há uma camada muito grande nas novas gerações que não vai por aí e que quer mesmo isso: quere as objeções, quer o sonho, quer a possibilidade, que lhes é muitas vezes negada, de pensar, e um futuro que as gerações, que a minha geração - por variadíssimas razões que são mais do que óbvias - lhes tem dificultado. Eu sou um cantor que sou muito mais jovem em termos de cabeça do que a minha idade, percebes? Sou muito mais.
PP - Porquê, agora, um álbum rock?
JC - Eu estava um bocadinho farto. Lancei três álbuns de baladas seguidos e, quando se come muitas vezes a mesma comida, às vezes enjoa. Eu tinha ficado com reportório de lado para fazer um álbum rockeiro. Quando tinha nove músicas, resolvi incluir uma versão do "I don't want to miss a thing", dos Aerosmith, que fiz para o "Sem Palheta", da "RFM". Incluí esse tema e acrescentei - porque me faltava reportório rockeiro - três temas bem rockeiros dos anos 70: “Blá! Blá! Blá!”, “Monstros Sagrados” e “Rock Rural”. Acrescentei esses temas que veiram dar um colorido bem rockeiro ao álbum. Embora o álbum tenha duas ou três baladas, mas que são power baladas. São baladas rockeiras, não são baladas Pop.
PP - Há alguma fase da carreira do José que o encha particularmente de orgulho? Algum trabalho que lhe diga mais?
JC - Eu tenho muito orgulho porque resisti até esta idade toda. Tenho multidões e multidões a verem-me. Ao fim de duas horas, as pessoas saem divertidas, saem gratificadas. Foram a uma festa. E ainda ouviram boa música. Bem cantada, bem tocada e que não tem nada a ver com pimbalheira… Não precisam de se embebedar para ouvir o meu concerto. As pessoas, para se divertirem no meu concerto, não têm necessidade de beber mais de que uma ou duas cervejas. Não precisam de se embebedar para estarem divertidas com José Cid & Big Band! E isso também é muito saudável!
PP - Como é que "a mãe do rock português" olha para a cena atual do estilo, em Portugal?
JC - O que eu acho é que, durante muitos anos, o pai do rock português soube, perfeitamente, que eu tinha um álbum entre os cem melhores álbuns do mundo. Uma coisa que nenhum álbum do pai do rock virá a ter, nem noutra reencarnação! Nunca foi capaz de assumir essa ideia. Por fim, recentemente, o meu álbum foi colocado entre os cinco melhores álbuns do mundo. Quando o meu álbum é colocado entre os cinco melhores álbuns do mundo, há seis meses ou um ano, sinto-me na obrigação de assumir o papel, já nem de mãe, nem de pai do rock. Eu sou o rock português! Depois, claro, há outras pessoas que são rock, bem tocado e bem pensado, como os Xutos (& Pontapés). Mas eu sou o rock português, porque tenho um álbum colocado entre os cinco melhores álbuns do mundo. Está tudo dito, não há hipótese! Não há imprensa nenhuma, não há ninguém que possa negar. Aliás, recentemente, a minha passagem pelo Porto, pela Casa da Música, com o “10 mil anos depois entre Vénus e Marte”, foi arrasadora. Primeiro, a Casa da Música esgotou, o que não é vulgar. Esgotou duas semanas antes! Depois, a recetividade que o público teve no meu concerto foi inesperada e brutal! Portanto, sim, eu sou o rock português. Mas eu não vou fazer aquilo que os outros fizeram comigo. Eu reconheço os Xutos, os GNR, os Clã - e também o Rui Veloso, claro que sim -, e todos os que fazem bom rock. Reconheço neles a capacidade que eles nunca me reconheceram a mim, publicamente, percebes? Eu não vou fazer o mesmo disparate que fizeram comigo durante décadas. Eu agora sou o número um do rock português porque tenho um álbum nomeado entre os cinco melhores álbuns do mundo, e basta ouvi-lo para perceber que é verdade. Eu próprio me surpreendo com o álbum “10 mil anos depois entre Vénus e Marte”. “Será que fui eu que fiz?” É um álbum ao nível do que há do melhor no planeta. Mas eu não me vou fechar numa conchinha e dizer: “Agora sou eu, eu, eu… e os outros que se danem". Não! Eu reconheço, e com a minha abertura que é tradicional, que há belíssimo rock em português.
PP - Neste novo álbum podemos ouvir temas autobiográficos?
JC - Há dois temas que podes considerar autobiográficos. “Menino Prodígio” relata a minha história em pequenito. O segundo é o “Andar de Marilyn”, que foi a minha primeira grande paixão. Aos 16 anos, a mulher que eu amava - que se chamava Marilyn Monroe – morre. O "Andar de Marilyn" é a história da tristeza profunda que eu senti quando ela morreu, quando acabou. Estes podem ser autobiográficos, mas o resto não tem nada a ver. Títulos como “De mentirosos está o cemitério cheio”, que está a ter um imenso êxito, “Aldeia Global”, “Chuva Ácida”; “Só”, que é dedicado ao poeta António Nobre, “Os Poetas”, de José Régio, musicado por mim… Tudo isso não tem nada a ver com o “Menino Prodígio” ou o “Andar de Marylin”. É muito à frente.
PP - São, por afirmação própria, 73 anos de carreira. O que é que isso faz a um músico? Tanta estrada, tanto estúdio… Já deu por si a pensar que as canções estão demasiado altas, que são horas a mais em palco, que o piano está a ficar com mais teclas…?
JC - Eu nasci para cantar e para escrever canções. Há gente que está no palco para ganhar dinheiro, eu nasci mesmo para cantar. E, quando não conseguir ganhar os cachês que ganho atualmente, baixo, nem que seja para dez vezes menos. Mas eu quero cantar, até poder cantar. Até eu sentir que a minha voz está cá. Quando a minha voz não estiver cá, eu posso ser só músico e acompanhar novas gerações. Vou gerir a minha decadência e vou atrasá-ka o mais possível. Porque isto é o meu projeto de vida e eu tenho direito a ele.
PP - Nas suas palavras: Qual é a herança que o José Cid vai deixar à música portuguesa?
JC - É muito pouca. O que eu vou deixar à música portuguesa, à crítica e à análise, é um grande complexo de puzzles musicais. Eu não sou só pop, não sou só rock, não sou só baladas, não sou só música popular, não sou só fado - sou isso tudo. E isso vai ser muito difícil de meter no catálogo, ou numa prateleira, como fizeram ao Zeca Afonso, ao Adriano (Correia de Oliveira) ou à Amália (Rodrigues). Eu sou muito mais incontrolável. Muito mais. Aliás, sou premeditadamente mais incontrolável.
PP - E a música, que herança vai deixar ao José Cid?
JC - Música é a minha música. Neste momento, já não oiço música dos outros… Por acaso, não é verdade. Quando venho no carro e passa música portuguesa, fico a ouvir – a boa música portuguesa, obviamente! Há rádios a passar música portuguesa detestável! Como agora, uma recente música africana que apareceu aí e que é, poeticamente, «sublixo». «Sublixo» poético! Uma coisa impensável! No outro dia, ouvi uma cantora africana a dizer: “O meu amor é um homenzarrão/ -ão/ -ão!”. Eu desatei a rir, como você está a rir! Eu desatei a rir à gargalhada! Isto não é possível! Isto não passa em rádios que têm credibilidade. O que é que fará correr essas rádios? Tão seletivas e passam coisas destas? É que nem é lixo poético - é «sublixo» poético. Portanto, o que eu deixo é um player de bons poemas. Músicas românticas, assumidamente românticas - que eu também sou romântico, tenho direito a ser, pelo menos, meia hora por dia. Outras músicas divertidas, pura e simplesmente divertidas. Que eu fiz para divertir e que não fiz para mais nada. Isto tudo, misturado com álbuns de Jazz, com o “10 mil anos depois entre Vénus e Marte”, com o próximo álbum de rock sinfónico que eu vou gravar – que se chama “Vozes do Além”, com poesia de (Federico García) Lorca, Natália Correia e Sophia de Mello Breyner. Mais, o álbum de música popular que eu quero gravar, só coisas divertidas, alegres. Vai ser muito difícil de me catalogar, aliás, nenhum crítico em Portugal tem conhecimentos musicais para o fazer. Quem diz quem é quem são os críticos. Portanto, os críticos não vão poder analisar José Cid facilmente. Quem vai ficar a analisar o José Cid facilmente é o público. Eu tenho, neste momento, enchentes incríveis! Multidões e multidões e multidões! E que não vêm, propriamente, em excursão de camioneta. Vêm mesmo por si próprios, porque querem vir. Divertem-se e estão lá, e só saem dali ao fim de duas horas e tal. O que vai ficar em mim, nas pessoas, são as saudades das minhas canções.
PP - Há alguma causa pela qual voltasse a usar o disco de ouro como peça única?
JC - É assim, aos 73 anos não me posso despir porque seria inestético. Eu, quando me despi, estava fantástico! Vinha da praia, tinha uma barriguinha, era só músculo, era só «caparro»! Era novo, tinha 30 anos, portanto podia fazer isso. Já houve aí um qualquer que se despiu – medonho! Como é que se chama…? Bruno Nogueira! Horrível! Parecia o Gandhi com o disco à frente! Ele despiu-se sem perceber a imagem que quis dar. Porque eu não me despi, despi-me de preconceitos! E bati-me por uma causa. Hoje, não o faria pela simples razão de que uma fotografia minha, já com 73 anos, não seria o mesmo. Eu era um Adónis aos 30. Agora, não preciso de me despir para me bater por causas. Este álbum é o corolário de uma série de causas que eu estou a defender. Desde a “Chuva Ácida”, à “Aldeia Global”, a “Monstros Sagrados”, “Poetas”… É um corolário de causas pelas quais eu me estou a expor. Eu incomodo com esta poesia, sem ser partidário, porque eu não sou partidário. Não vou ser, nunca serei. Posso ser suprapartidário, isto é, posso debater-me por causa de ideais, por pessoas, por coletividades, por um país, sem ter a absoluta necessidade de estar inscrito ou a apoiar qualquer ideólogo de qualquer partido português. Aliás, tenho outro álibi! Eu nem sou republicano! Nem vejo o país como uma república. Gostaria que se copiassem os modelos dos países mais evoluídos, menos corruptos e mais civilizados do planeta – que são as monarquias do Norte da Europa. Onde as novas gerações teriam muito mais hipótese de estarem bem.
Catarina Soares
Fotografias: Carlos Lima

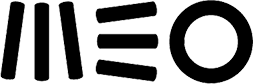
Comentários