
Intrometemo-nos nos últimos preparativos do concerto de Linda Martini em Lisboa e fomos ao camarim conversar com André Henriques, Hélio Morais e Pedro Geraldes. Só falaram os rapazes, porque a Cláudia Guerreiro estava a afinar o baixo. Foi uma conversa sobre o passado, o "Turbo Lento" e o futuro.
Sentem que o "Turbo Lento" ficou mesmo, mesmo no ponto? É o vosso menino?
Hélio Morais: É o nosso menino! É claro que tu és sempre super crítico. E, conhecendo o processo tão por dentro, tens sempre coisas a apontar e tens sempre coisas que depois de ouvires em casa melhoravas. Mas o tempo de estúdio é sempre um limitado e tu tens de jogar um bocado com isso: tens de jogar num compromisso fixe para ficar bem e, ao mesmo tempo, sentires-te confortável com isso.
Estão a pôr fim a um ciclo de concertos com músicas já muito rodadas e setlists a que já estavam mais que habituados. Nervoso miudinho na nova etapa?
André Henriques: Sim, há sempre. Temos de aprender as músicas outra vez. Nós já tínhamos as músicas antes de ir para estúdio (o estúdio, como o Hélio disse, é uma experiência de uma semana e pouco, e fechas ali os últimos detalhes), mas este disco tem muitas guitarras que o outro não tinha (basicamente, o que tu ouvias ao vivo era o que ouvias no “Casa Ocupada”), e aqui temos de fazer umas cedências, perceber como vai funcionar melhor ao vivo, e nesse sentido são mais desafiantes. Qualquer disco dá trabalho a pôr ao vivo. E, garantidamente, só com a rodagem e mais concertos é que as coisas tomam forma. Nós sentimos essa diferença ainda na sala de ensaios – em algumas já nem precisas de olhar para a guitarra e a coisa sai-te intuitivamente, enquanto que noutras ainda estás a racionalizar um bocado. Só o palco é que vai dar uma vida nova ao disco.
Pedro Geraldes: Nós sentimos isso. Já nos discos anteriores, as músicas gravadas têm uma determinada forma, e depois quando as tocamos ao vivo elas ganham ali uma outra vida. Isto está ainda mesmo no início do processo. Temos de arranjar ali uma forma de contornar e ter o mesmo impacto, ou ter um impacto maior.
Vocês comentaram numa das últimas entrevistas que um dos concertos mais intensos dos últimos anos foi na Galeria Zé dos Bois, em que estava toda a gente apertadinha.
PG: Acaba por ser influência do próprio espaço. Como estás num espaço intimista, o pessoal todo em cima também vai buscar um bocado de ti. Traz-te aqueles concertos do início, em espaços muito pequenos, numa ligação muito directa com o público. Não há barreiras, não há nada, e isso também acrescenta um bocado ao intercâmbio.
PG: Pá, depende, se vier muita gente pode ser fixe.
AH: Mas em nome próprio não estamos habituados a tocar em espaços tão grandes.
HM: Se perguntas se nós idealmente preferiríamos uma sala um bocadinho mais pequena? Sim, provavelmente. Mas Lisboa tem as salas que tem e tu tens de escolher aquela que te assenta melhor, de acordo com o teu público, de acordo com os teus objectivos. E esta era a que assentava melhor.
Têm lido as críticas que escrevem sobre o Turbo Lento? Interessam-vos?
HM:Sim, claro. Seriamos mentirosos se disséssemos que não.
AH: Interessam o que têm de interessar. Se for uma crítica muito boa também não nos deslumbramos, mas gostamos de saber o que é que as pessoas acham do disco, sem dúvida. Ninguém faz um disco para o umbigo. Senão fazíamos um disco para nós e não o lançávamos; rodávamos só nas nossas casas. A partir do momento em que há uma exposição, e nós queremos levar o disco para a estrada, obviamente que nos interessa ter o retorno das pessoas e perceber se gostaram ou se não gostaram. Interessa-nos na medida certa: ou seja, se eventualmente fosse uma desgraça a nível comercial, ou se as pessoas estivessem a dizer muito mal do disco, não seria um grande desânimo para nós. Eventualmente, poderíamos sentir-nos um bocado perturbados por não estarem no mesmo comprimento de onda que nós, mas íamos continuar a fazer as coisas como sempre fizemos.
Mas às vezes também há uma diferença entre o que a crítica acha e o que o público acha...
HM: No nosso caso têm andado de mãos dadas, o que para nós é bom. Tu fazes o disco e estás tão entranhado nele que não sabes muito bem o que tens entre mãos. Obviamente que só gravas aquilo com que estás satisfeito, mas daí a nós conseguirmos assumir “este disco é bom, este disco não é bom”... Ajuda quando começas a ouvir as primeiras críticas e vão nesse sentido. E aí se calhar tu próprio assumes para ti que é fixe, que o disco saiu bem.
PG: Até porque nós próprios somos os primeiros críticos. Somos nós que fazemos a música e entre nós também somos sempre críticos, até chegarmos a um consenso e termos as músicas fechadas. E ficamos curiosos por saber o que o resto do pessoal acha. E a crítica pode ser um consolidar: é saber uma opinião extra. Nós fazemos as cenas e achamos que é o melhor, mas é sempre o nosso instinto, a nossa maneira de ver. E não há uma certeza absoluta que vais fazer isto e que toda a gente vai achar bom.
Há muita adrenalina e gritos nas vossas músicas e concertos. Parte dessa intensidade é raiva?
HM: Não. Acho que nunca fizemos nada de raiva. Fazes de catarse. Nós não somos pessoas muito rancorosas.
AH: Nem tristes... A nossa música acaba por entrar ali mais numa onda melancólica, mas não somos pessoas tristes nem deprimidas com a vida. Claro que todos têm os seus momentos, uns mais alegres que outros, mas não é algo que nos defina enquanto pessoas. As coisas não se forçam; no momento da criação as coisas saem... São um bocado à flor da pele. Gostamos de passar coisas que temos, que podem ser mais emotivas, e eventualmente isso pode passar para fora uma imagem de raiva, ou agressividade, mas acho que é mais no sentido da catarse. Mais no sentido de puxar para cima e não no de “vou ficar aqui no meu poço e não quero falar com ninguém”.
HM: Toda a gente precisa de gritar de vez em quando, nem que seja debaixo de água.
PG: E essa catarse pode passar pela raiva e pode passar por outros sentimentos. A cena não é tão fechar, é mais o expandir.
Nesse sentido, os concertos são cansativos mas terapêuticos.
HM: Porra! E como...
PG: São libertadores.
AH: Estás a explodir, mas tu fazes aquilo para te amenizar.
HM: Quantas vezes já bati em pessoal a tocar bateria. Estás chateado com alguém, aproveitas. Não bates nas pessoas porque és um gajo civilizado, bates na bateria e pronto.
Onde é que se imaginam a banda daqui a 10 anos?
HM: Ali, na sala do lado... Estou a brincar!
AH: Não sei... Não fazemos grandes planos. Parte do segredo é esse.
PG: Epá, também não nos imaginávamos aqui agora... Se continuarmos a tocar, e se continuarmos como amigos a tentar fazer música, a tentar fazer discos, essa acho que é a visão mais positiva que podemos ter.
HM: Isso já era uma grande vitória.
AH: Vamos pensando disco a disco, música a música, e isso tem-nos alimentado o suficiente para continuarmos. De disco para disco temos tido sempre vontade de fazer outros, e isso é muito bom. Agora este está feito, é uma cena de que nos orgulhamos, e é aquele momento que nós cristalizámos. Mas já estamos a pensar no que pode vir a seguir, e isso é muito positivo. Se calhar daqui a 10 anos imaginamo-nos (ou gostaríamos de nos imaginar) nessa luta de “o que é que vem a seguir?”.
É mais fácil fazer um álbum agora, que são mais experientes, ou há 10 anos, quando tinham mais sangue juvenil?
PG: Isso é um ponto interessante. São questões diferentes. Quando fazes o primeiro disco, tudo é uma novidade, e surpreendes-te mais facilmente e és capaz de surpreender também as outras pessoas. À medida que vais fazendo música também não te queres repetir muito, não queres ir buscar as mesmas fórmulas, e se calhar o desafio é maior. Pá, mas sinceramente não sei se é mais fácil agora ou se o era no início. São formas diferentes de estar.
HM: Acho que a dificuldade é mais ou menos a mesma, sempre. Porque tu com a idade ganhas agilidade e tens mais soluções para contornares situações e músicas. Mas ao mesmo tempo também ficas mais exigente. Portanto, acho que a dificuldade vai dar um bocado ao mesmo.
Quais as vossas músicas preferidas do Turbo Lento?
PG: A minha preferida é a “Febril (Tanto Mar)”.
HM: Sim, pela diferença, também escolheria essa.
AH: Gosto muito da “Sapatos Bravos”, se calhar também ias dizer essa.
PG: Gosto muito da “Volta”.
AH: É um bocado difícil, sabes, eleger aquela. Como nós estávamos a dizer há bocado sobre a crítica: os maiores críticos somos nós. Aquilo que as pessoas ouvem no disco, e vão ouvir ao vivo, já passaram por crítica atrás de crítica. Nós somos mesmo muita chatinhos uns com os outros, e as coisas têm de ser muito discutidas e temos de estar todos de acordo. Portanto, aquilo que nos sai, à partida é algo com que nós todos estamos confortáveis. Não só confortáveis no plano do “ok, é isto”; não, gostamos mesmo daquilo que fazemos.
HM: Pá, também gosto da “Pirâmica” porque é bué diferente.
AH: Depende de concerto para concerto. Às vezes há uma música num concerto bate de uma maneira qualquer, porque te lembraste de qualquer coisa, ou há um momento fixe entre nós, no palco. E, dependendo do momento, vais buscar coisas diferentes.
Fotografia: Tomás Amaral

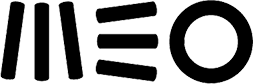
Comentários