
Passaram 40 anos desde que estreou a primeira versão de “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola. O filme teve uma produção colossal, o mais caro de sempre até àquele ano de 1979. Entretanto, surgiram mais duas versões com novas edições das imagens e “Apocalypse Now” tornou-se uma peça de culto, com histórias que alimentam mitos e uma narrativa intrincada como há poucas no cinema.
Francis Ford Coppola tinha acabado de lançar as duas primeiras partes de “O Padrinho” e um capital no mundo do cinema que lhe permitia pegar em qualquer projeto. Talvez tenha sido esse estatuto que lhe garantiu o investimento no novo projeto, uma monumental produção de muitos milhões. Quando os prazos (e os orçamentos) começaram a resvalar, Coppola terá dado a sua casa e a sua vinha como garantia bancária, se o resultado fosse um flop.
Longe disso, “Apocalypse Now” cresceu como filme ao longo dos anos, tanto que o realizador lançou mais duas edições, a última das quais já em 2019 para assinalar os 40 anos da obra.
Tudo começou quando o argumentista John Milius se atirou à tarefa que se dizia impossível no mundo do cinema: adaptar para o grande ecrã o romance de Joseph Conrad, Heart of Darkness (1902). Foi Milius quem teceu a base do guião (e concebeu o título “Apocalypse Now”, como antítese irónica da máxima “Nirvana now”, que os hippies dos anos 1970 usavam). Mas é de Coppola a versão final. O afastamento do primeiro aconteceu à medida que o segundo começou a imprimir cada vez mais a sua visão no argumento e diz-se que pouco sobreviveu do primeiro rascunho de Milius.
Pôr o dedo em feridas abertas
E que visão é essa? “Apocalypse Now” é fruto da arrojada decisão de retratar a Guerra do Vietname, dura como foi para os Estados Unidos da América, pouquíssimos anos depois do seu fim. Fazê-lo sem o que tempo criasse a habitual distância entre a realidade e a memória foi uma decisão ímpar. No romance de Conrad, Charles Marlow navega em solo africano para resgatar Kurtz, comerciante de marfim. A adaptação do livro coloca as personagens no Vietname, quando as feridas da guerra ainda não tinham sido, certamente, saradas pelo tempo.
Marlow é o Capitão Willard, interpretado por Martin Sheen. Confuso com a personagem, Sheen conta que perguntou ao realizador quem era aquele capitão americano, que já tinha sido atravessado pela guerra e que se encontrava num limbo. Coppola ter-lhe-á respondido que Willard era ele mesmo, Martin Sheen, em cada momento em que as filmagens tivessem lugar.
Por isso é tão verdadeira a cena em que conhecemos Willard, num quarto de hotel, nesse marasmo, a meio de um breakdown psicológico. Um dos mitos sedimentados ao longo dos anos diz que Sheen estaria a passar mesmo por uma crise existencial, como a sua personagem. Verdade ou não, certo é, que naquele quarto de hotel, Willard desfaz-se num choro copioso e corta a mão ao dar um murro num espelho. Sim, é um momento verdadeiro e que nos atira de cabeça para a angústia do capitão (e do ator?). Mas também o é porque Sheen estava bêbado e Coppola, sem grandes indicações, pôs a câmara a gravar a ver o que iria sair dali.
Angústia é também o estado de Willard desde que, momentos depois, lhe é dada a uma missão: deve procurar e eliminar o coronel Kurtz, antiga glória do exército que degenerou e se radicou no Camboja. Pouco é dito sobre Kurtz – só mais tarde ficamos a saber que se tornou quase um líder espiritual de um culto a viver em registo de tribo no meio da selva. Um jovem Harrison Ford é o oficial que descreve a missão a Willard e que o põe a pensar: depois do que já fez durante a guerra, será capaz de matar novamente? E conseguirá matar um oficial americano? Ou acabará por perder-se nos meandros da guerra? Poderá abandonar a norma, como outro antes de si, e juntar-se a Kurtz na alienação da sociedade? Esses pensamentos atormentam-no.
Diz-se ainda que Sheen tinha comportamentos de excessos, fumando e bebendo muito. Interferências à parte, não é difícil acreditar que só aquela angústia teria sido capaz de lhe provocar o ataque cardíaco que sofreu durante as filmagens. Tinha 36 anos.
Viagem espiritual aos horrores da natureza humana
A guerra serve de pano de fundo à viagem espiritual de Willard. Junta-se a uma embarcação, com soldados tão jovens quanto imaturos. Pelo caminho, encontra o batalhão liderado pelo coronel Kilgore (Robert Duvall), que cisma em levar o surfista famoso que viaja com Willard a experimentar as ondas de uma costa ali perto. Só que essa parte do território é hostil e Kilgore lança um ataque com o único propósito de surfar ao lado daquela estrela na costa vietnamita. É aí que tem lugar uma das cenas mais conhecidas do filme e da história do cinema: os helicópteros americanos descem sobre a baía ao som gritante de “Ride of the Valkyries” de Wagner.
É uma cena épica no meio de um filme que quer ser uma epopeia. Como em qualquer história deste calibre, alguns soldados perdem a vida mas nada que impeça o avanço da guerra. Até que Kilgore vê as ondas perderem força por causa do napalm espalhado sobre a região.
“Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.”
Willard lá consegue bater em retirada e o grupo segue a viagem. Tyrone Miller (Laurence Fishburne muito jovem) é um dos tripulantes da navegação. Quando se cruzam com uma embarcação de pescadores, o comandante, Chief Phillips (Albert Hall), insiste em fazer a vistoria obrigatória apesar de o capitão ditar que seguissem caminho. Miller vigia atrás de uma arma o momento em que Jay Hicks (Frederic Forrest) sobe a bordo do barco vizinho para o revistar. A tensão cresce e Miller dispara, de repente, sobre o barco, sem cessar fogo, o olhar de maníaco a ditar o ataque. Momentos como este são estrategicamente colocados por Coppola na história, para dar conta de que as personagens estão a chegar mais perto do sítio que os espera, que estão a aproximar-se da dureza da natureza humana, ou que estão a enlouquecer.
No documentário que Eleanor Coppola fez como registo rico das filmagens (Hearts of Darkness é o título), Coppola explica que não se trata apenas de um filme, mas de uma experiência transcendental. O realizador tinha a sua reputação a prémio. Mas tinha sobretudo o objetivo de fazer uma obra-prima que desvendasse a forma como as pessoas lidam com o círculo da vida, a passagem do tempo, o dia que se sucede sempre à noite… Coppola está sentado em frente à vegetação, no meio da selva das Filipinas (onde gravaram o filme) quando o documentário mostra esse desabafo. Sem camisa, com os seus óculos muito profundos, atira palavras como “transmutação”, “epifania” e “renascimento” para descrever o que está, afinal, ali a fazer. Não quer ser pretensioso, como os realizadores maus, diz. “Nothing is so terrible as a pretensious movie.” Mas o que importa é passar pela experiência e sair do outro lado, tal como Willard sobe o rio até ao refúgio de Kurtz e se depara com a sua própria natureza.
Vamos aprendendo sobre a história do coronel Kurtz com a narração de Willard ao longo do filme. Quando o conhecemos realmente, é Marlon Brando quem ali está, olhos graves e tom de quem paira uns bons metros acima dos homens comuns.
Brando é o mito, mais do que o ator. Quando se apresentou ao serviço, estava acima do peso que a personagem exigia, sendo ela um ex-soldado desterrado na natureza, um líder espiritual que prescindiu dos vícios materiais. O que foi um pesadelo para o guarda-roupa talvez tenha sido a inspiração dos planos apertados de Coppola em que Brando está envolto em sombras. Tudo acabou por bater certo com a aura mística que se pretendia daquela personagem.
Diz-se ainda que Brando não tinha feito sequer o trabalho de casa e que terá sido o próprio realizador a ler-lhe o romance de Joseph Conrad. E quanto às cenas, se já é conhecida a dificuldade que Brando tinha para fixar as falas, aqui terá improvisado a maior parte. Martin Sheen descreve a interação com o ator como uma experiência envolvente, em que Brando pegava em que estava a contracenar consigo e os embalava nas suas deixas, com uma energia que emanava dele instintivamente e que, aos outros, só cabia seguir.
Willard fica então refém de Kurtz, mas o coronel sabe que o capitão vai matá-lo. Por isso, confia-lhe a missão de ser o depositário das suas memórias. Memórias essas que estão repletas dos horrores da guerra, como o episódio em que os soldados americanos com quem estava vacinaram as crianças de uma aldeia. Logo de seguida, depararam-se com uma pilha de braços decepados. Onde a vacina tinha sido administrada, as crenças ditaram a amputação.
“This is the end, my only friend”
Convenientemente ao som de “The End”, a voz de Jim Morrison embala o desfecho da missão. Willard golpeia Kurtz ao mesmo tempo que a tribo sacrifica uma vaca (com golpes muito realistas). Kurtz murmura finalmente: “the horrors, the horrors”.
Entre sombras e labaredas, as imagens finais de “Apocalypse Now” concretizam essa viagem espiritual e somos quase devolvidos à realidade com o choque da veracidade daquelas cenas, nós que acabámos por também viajar naquele barco, sentir o cheiro de napalm, sofrer com a dureza da guerra.
Willard partiu da crise existencial, assim como Kurtz tinha feito antes. Tem um esgotamento emocional depois das experiências traumáticas da guerra. Enfrenta uma missão que pode desferir o golpe final sobre a sua condição humana e tornar irrecuperável a experiência da guerra. E chega ao ponto final, onde o espera a conclusão de que a natureza humana é mesmo capaz dos mais impressionantes horrores. Assim como Kurtz tinha percebido. Ambos percorreram o mesmo percurso. Serão ambos a mesma personagem? A verdade é que a tribo de seguidores se curva perante o novo alfa, depois de Willard matar Kurtz. Mas não, Willard não substitui o coronel deposto. A sua nova missão é contar a história de Kurtz.
The horrors. The horrors.
Apocalipse Now arrebatou Cannes mas não convenceu a Academia. Não precisava. Estes 40 anos consagraram-no como um dos melhores filmes alguma vez feitos, mesmo que estas assunções sejam sempre dúbias e até um pouco autopronunciadas.
Pode dizer-se, pelo menos, que é um documento cultural do seu tempo. Além de relatar a guerra num tom mais realista do que Hollywood fez depois, “Apocalypse Now” cruza o romance de Conrad com outras inspirações literárias. Perto do fim, Brando lê o poema de T.S. Eliot, “The Hollow Men”. Mas a sua personagem evita o primeiro verso, onde se lê, curiosamente: “Mistah Kurtz – he dead”.
Aqui cabem Wagner e também The Doors. “The End” abre e fecha o filme. E há rock que retrate melhor uma viagem espiritual do que o dos Doors?
“This is the end, my only friend."

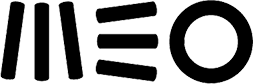
Comentários